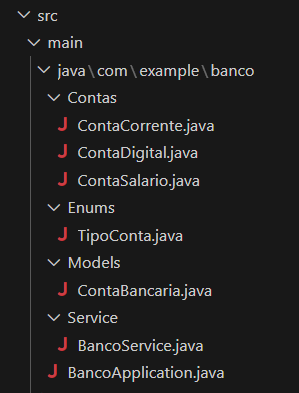No mundo da computação, as linguagens de marcação desempenham um papel fundamental na organização e apresentação de informações em ambientes digitais. Seja navegando em páginas web, lendo documentações técnicas ou compartilhando dados entre sistemas, estamos constantemente interagindo com documentos criados por meio dessas linguagens.
Este artigo apresenta uma visão geral sobre as linguagens de marcação, abordando suas características e as principais linguagens utilizadas atualmente, permitindo compreender sua importância e suas aplicações no dia a dia.
1 – O que é uma linguagem de marcação?
Uma linguagem de marcação (do inglês, markup language) é um conjunto de códigos e anotações padronizadas que descrevem a estrutura e a forma de apresentação de um documento.
Linguagens de marcação são utilizadas na construção de interfaces gráficas de usuário e na transferência de dados entre diferentes dispositivos.
A ideia central desse tipo de linguagem é a marcação padronizada de dados. Isto envolve a aplicação de um conjunto de códigos e regras simples em uma sequência de dados no formato de texto-puro. O resultado é um documento, estruturalmente, padronizado que é legível por pessoas e aplicações de diferentes dispositivos e sistemas operacionais.
2 – Onde surgiram as linguagens de marcação?
A primeira linguagem de marcação foi a SGML (Standard Generalized Markup Language ou Linguagem Padronizada de Marcação Genérica), criada na década de 60 por pesquisadores da IBM.
A linguagem possuía dois objetivos básicos:
– A marcação do documento deve descrever a sua estrutura e outros atributos pertinentes, em vez de especificar o processamento a ser feito no mesmo;
– A marcação deve ser definida rigorosamente, de forma que diferentes sistemas possam ser usados para processar o documento.
O SGML foi um marco na história da computação. A linguagem representa o primeiro padrão estrutural para documentos, permitindo uma fácil portabilidade (transferência) destes documentos entre diferentes sistemas e dispositivos.
Nas décadas seguintes, surgiram novas linguagens de marcação derivadas do SGML, como o HTML, lançado no final da década de 1980, e o XML lançado em 1996. Ambas as linguagens fazem parte de nosso dia a dia e no próximo tópico vamos conhecer um pouco mais a respeito delas.
3 – As linguagens de marcação existentes
Nesse tópico vamos conhecer as principais linguagens de marcação existentes na atualidade. Começando pelo HTML:
3.1 HTML
Provavelmente, a linguagem de marcação mais conhecida que existe, o HTML é essencial para a construção de páginas web e interfaces gráficas de diversas aplicações.
HTML é a sigla para Hypertext Markup Language, ou Linguagem de Marcação de Hipertexto. Esta linguagem define a estrutura de um documento que será exibido ao usuário final.
Através de um conjunto de marcações chamadas de tags, é possível definir a posição, o tipo e o comportamento de diversos elementos, como títulos, parágrafos, links, caixas de seleção, botões, entre outros.
Para um melhor entendimento do tema, vamos ver um exemplo simples de um documento HTML:
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Exemplo HTML</title>
</head>
<body>
<h1>Olá mundo!</h1>
<p>Eu sou um documento HTML!</p>
</body>
</html>Observe que cada tag geralmente possui uma abertura e um fechamento, delimitadas pelos símbolos < > e </ >. Além disso, cada tag desempenha uma função específica dentro da estrutura do documento.
Documentos HTML possuem a extensão .html e compõem a base da internet. Eles são indispensáveis para a construção da estrutura de páginas web e desempenham um papel crucial no funcionamento da web moderna.
3.2 – XML
Outra linguagem de marcação amplamente conhecida e utilizada e conhecida é o XML. Diferente do HTML, o XML não possui foco em exibir dados para os usuários. Sua finalidade é descrever e padronizar a estrutura dos documentos para facilitar sua transferência entre diferentes dispositivos e sistemas.
XML é a sigla para eXtensible Markup Language, ou Linguagem de Marcação Extensível. Esta linguagem também utilizada o conceito de tags em suas marcações. Porém, ao contrário do HTML que possui um conjunto pré-definido de tags, o XML não conta com tags pré-definidas. Dessa forma, os usuários podem criar suas próprias tags para representar os dados que desejam manipular.
Ainda em comparação com o HTML, o XML possui uma estrutura mais rígida quanto a abertura e fechamento de tags e quanto a identação das tags para fins hierárquicos no documento.
Para esclarecer as diferenças entre as linguagens, vamos ver um exemplo simples de um documento XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<livro>
<titulo>O Senhor dos Anéis</titulo>
<autor>J.R.R. Tolkien</autor>
<ano>1954</ano>
<genero>Fantasia</genero>
</livro>No exemplo acima, observamos que o documento XML utiliza tags personalizadas para descrever informações específicas, como <titulo>, <autor>, <ano> e <genero>. Cada tag representa um dado, e a indentação define a estrutura hierárquica.
Documentos XML possuem a extensão .xml e são amplamente utilizados na integração entre diferentes plataformas, permitindo um formato padrão para transmissão de dados.
3.3 – Markdown
O Markdown é uma linguagem de marcação leve e de fácil escrita. Diferente do HTML e do XML, ela não segue regras rigorosas, sendo uma linguagem de marcação leve e fácil de escrever, que permite que muitos desenvolvedores e escritores a usem para criar textos formatados de maneira simples e intuitiva.
O Markdown é um método de formatação de texto baseado em caracteres especiais, que transformam textos simples em documentos estilizados. Diferentemente de outras linguagens de marcação, ele não utiliza tags para definir os elementos do documento. Em vez disso, emprega caracteres como por exemplo #, * e [] para identificar e estruturar os elementos. Com esta linguagem, é possível criar títulos, listas, links, imagens, tabelas, blocos de código e muito mais, sem a complexidade de linguagens como HTML ou XML.
Para ilustrar, vejamos um exemplo básico de um documento Markdown:
# Olá, mundo!
Eu sou um **documento Markdown**. Aqui está um exemplo de algumas das coisas que você pode fazer:
## Lista não ordenada:
- Item 1
- Item 2
- Item 3
## Lista ordenada:
1. Primeiro item
2. Segundo item
3. Terceiro item
**Texto em negrito**
*Texto em itálico*
***Texto em negrito e com itálico***
## Link:
[Acesse o meu site](https://www.thiagogaelzer.com)Observe no exemplo acima as peculiaridades dessa linguagem. Cada elemento segue uma sintaxe específica que o diferencia. Usamos o símbolo # para criar títulos, o traço - para listas não ordenadas e números seguidos de ponto para listas ordenadas. Para destacar textos em negrito ou itálico, usamos asteriscos * ou sublinhados _.
Documentos markdown possuem extensão .md ou .markdown. São amplamente utilizados na construção de documentações técnicas (como README e CHANGELOG). Postagens de blogs e até mesmo softwares de produtividade que usamos no dia a dia, como Slack, Discord e Notion, utilizam essa linguagem.
Além das linguagens de marcação mencionadas aqui, existem outras como, por exemplo, o SVG, o MathML e o LaTex, cada uma delas com uma aplicação específica. Neste artigo, não irei detalhar essas linguagens, deixando para postagens futuras.
Conclusão
As linguagens de marcação revolucionaram a forma de estruturar, compartilhar e apresentar informações em ambientes digitais. Desde sua origem com o SGML até as implementações modernas como HTML, XML e Markdown, estas linguagens continuam evoluindo para atender às crescentes demandas tecnológicas.
Cada linguagem possui características e aplicações específicas: o HTML mantém-se como pilar fundamental da web, o XML garante a padronização na transferência de dados entre sistemas, e o Markdown oferece uma alternativa simplificada para criação de conteúdo estruturado.
Compreender os usos e aplicações das linguagens de marcação é essencial para profissionais da área de tecnologia. Na prática, essas linguagens são ferramentas indispensáveis no desenvolvimento de sistemas eficientes e modernos.
Espero que o conteúdo aqui apresentado seja útil de alguma forma para você. Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações fique à vontade para entrar em contato.